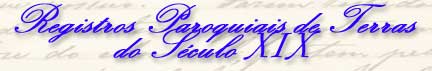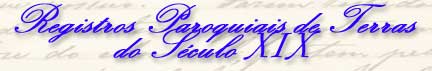|
A Lei de Terras e os Registros Paroquiais
Aprovada após intenso debate, a Lei de Terras de 1850 foi finalmente
regulamentada pelo Decreto número 1.318, de 30 de janeiro de 1854. Com
nove capítulos e 108 artigos, o Regulamento procurou dar conta das inúmeras
situações relacionadas à ocupação das terras. Para tanto, ordenou a criação
da Repartição Geral das Terras Públicas, órgão responsável por dirigir a
medição, dividir e descrever as terras devolutas e prover sua conservação.
Também era de competência da Repartição propor ao governo quais terras
devolutas deveriam ser reservadas à colonização indígena e fundação de
povoações, e quais deveriam ser vendidas, além de fiscalizar tal distribuição e
promover a colonização nacional e estrangeira. Cabia também à mesma
Repartição realizar o registro das terras possuídas, propondo ao Governo a
fórmula a ser seguida para a legitimação dessas terras e revalidação de títulos.
Estes registros - os chamados Registros Paroquiais de Terras -
tornaram-se obrigatórios para "todos os possuidores de terras, qualquer que
seja o título de sua propriedade ou possessão". Eram os vigários de cada
freguesia os encarregados de receber as declarações para o registro de terras.
Cada declaração deveria ter duas cópias iguais, contendo: "o nome do
possuidor, designação da Freguesia em que estão situadas; o nome particular
da situação, se o tiver; sua extensão, se for conhecida; e seus limites"
Proclamada como uma lei inauguradora, capaz de "firmar a propriedade
territorial", dando ao proprietário "tranqüilidade e seguridade", a Lei de Terras
de 1850 não esteve acima da sociedade que a criou. Inspirada - segundo
alguns - pelo sistema de colonização de Wakefield ela não foi, no entanto,
mais um mero reflexo da inspiração baseada num modelo externo e, muito
menos, resultado das elucubrações teóricas de dois redatores. Aprovada no
mesmo ano que pôs fim ao tráfico negreiro, a Lei de Terras também não esteve
automaticamente ligada ao problema da famosa transição do trabalho escravo
para o livre. Debatida, discutida, virada pelo avesso ao longo de sete anos (de
1843 a 1850), ela também não foi apenas resultado das clivagens partidárias
do período e também não refletiu como espelho os interesses dos cafeicultores
fluminenses.
Ela foi isto tudo (certamente não de modo tão esquemático) e muito
mais. Para os advogados, ela inaugurou conceitos jurídicos ainda hoje
utilizados no Brasil. Outros, ainda, vêem na lei um recurso para a defesa dos
interesses do Estado em relação a suas terras devolutas ou na defesa de
pequenos posseiros em processo de expulsão. Ela foi também isso, e ainda
mais. Como toda e qualquer lei, esteve imbricada nas relações pessoais, teve
uma história e buscou assegurar critérios universais, legitimadores dos
princípios jurídicos que procurou consagrar. Como qualquer lei, ela esteve
intimamente ligada ao passado e foi para dar conta dos problemas dele
advindos que homens de várias tendências a debateram, criticaram e
defenderam na Câmara e no Senado. Mas o passado nada tem de singular.
Para cada um dos representantes no Parlamento havia uma interpretação - que
conflitava com outras - para explicar a história da ocupação territorial do Brasil
e lhe conferir um sentido. Para alguns, era o direito dos posseiros que deveria
ser salvaguardado; para outros, era preciso diferenciar os cultivadores dos
meros invasores do terrenos alheios. Para outros ainda, o importante era
salvaguardar os interesses dos sesmeiros, os titulares das terras. Neste debate
de interpretações, o texto da Lei de Terras não deixou de expressar esta arena
de lutas. E sua aplicação, como registrar ou não a sua terra após a
regulamentação da Lei, em 1854, concretizou a continuidade refeita desta
mesma arena, na qual combatiam os que a queriam como a possibilidade real
ou apenas imaginária para regularizar o seu acesso à terra.
(adaptado do livro de Motta, Márcia. Nas Fronteiras do Poder. Conflito e Direito à Terra
no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro / Vício de
Leitura, 1998)
|